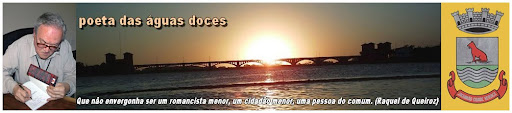T A T U A G E N S
Sérgio da Costa Franco
Entre as incompatibilidades que, no fim
da vida, arranjei com o meio social em que vivo, está essa prática da tatuagem,
que a cada dia encontra mais aderentes e mais espaço na pele de formosas
criaturas, que assim danificam pernas, colos e braços antes perfeitos. E o pior
é que não posso ao menos criticar essa opção pseudo-artística e estética,
porque foi aceita e adotada por estimados personagens da família. O que antes –
e assim se entendia até o meu tempo de adolescente – era uma prática de
presidiários e desocupados, ou de marujos, para preencher as extensas jornadas
de ócio, tornou-se atrativo de moças bonitas e bem-nascidas, de rapazes
ilustrados e até de trabalhadores, condenados a “ralar” no dia-a-dia da construção
civil, da indústria fabril ou do comércio.
Até admiro a coragem de quem é capaz de
mandar gravar na própria pele, de forma dificilmente removível, o nome de uma
namorada, sem nenhuma garantia de permanência no leque das afeições pessoais.
Os surtos amorosos, especialmente entre os muitos jovens, podem levar a essas
demonstrações de afeto, que são dolorosas de fazer e ainda mais dolorosas para
desmanchar. Não por uma namorada (o que poderia render alguma coisa em termos
de relacionamento), mas por afeição intelectual e ideológica, um dos meus netos
mandou gravar no braço a imagem do Nietzsche, com seu formidável bigode. Eu
nunca aprovaria essa opção ideológica, que também foi de Hitler e dos nazistas,
mas o jovem aprendiz de filósofo, então com vinte anos, jamais consultaria o
avô, e lá está ele com seu ícone imortalizado no antebraço, até que se
arrependa algum dia e eleja melhor parceiro, talvez um pacifista como Gandhi ou
Mandela, ou um santo como Francisco de Assis. Mas será difícil e penoso deletar
todo aquele bigodão... E como o filósofo é mal conhecido e menos identificado,
meu neto é visto, no Rio Grande do Sul, como um fiel devoto do Governador
Olívio Dutra.
Dias atrás, passou por mim, sem camisa,
um jovem que mandara gravar no lombo a estrela do PT. O que me pareceu um caso
de empolgação transitória, que em certas praias e ambientes deve agora
trazer-lhe dificuldades para despir a camisa. Talvez fosse bem pior se ele
tivesse desenhado na pele uma foice e um martelo, como do agrado de alguns
comunistas antes do desmanche da União Soviética. De qualquer modo, jamais
convém gravar na pele as opções políticas, sempre passíveis de revisões e de
arrependimentos.
Os velhos
marinheiros, que me consta haverem sido os primeiros adeptos da tatuagem,
gravavam na pele a imagem das mulheres que conquistavam nos portos, mas sem
fixar nomes nem datas. Não precisavam removê-las quando as esquecessem ou
quando passassem a odiá-las. Eram apenas figuras de um passado perdido, que
levavam na pele como uma página de história. Os jovens da atualidade ainda estão
aprendendo que são passageiras muitas afeições e devoções intelectuais, e os
amores, mais ainda, são fugazes e incertos.